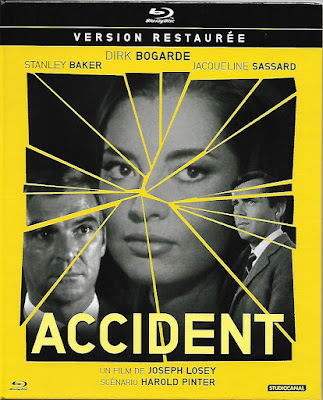«Os
observadores cristãos fitavam a tolerância dos seus vizinhos
não-cristãos com espanto. Santo Agostinho maravilhou-se, mais tarde, com
o facto de os pagãos serem capazes de adorar muitos deuses diferentes
sem discórdia, ao passo que os cristãos, que adoravam apenas um, se
dividiam em inúmeras facções adversárias.» (p. 79)
Abria-se uma nova era. Adorar outro deus não era ser-se apenas diferente. Era errar. E os que erravam deviam ser apanhados golpeados e - se necessário - feridos. Acima de tudo, deviam ser parados. «"Não há nada de errado", escrevera Celso, "se cada nação observar as suas próprias leis de adoração". Para muitos dos mais influentes pensadores da Igreja Cristã, nada poderia ser mais abominável.» (p. 81)
Um dos outros temas dominantes da propaganda cristã é o mito dos mártires. Em 64 a cidade de Roma ardeu largamente. Para arranjar um culpado (há quem atribua o incêndio ao próprio Nero, o que é duvidoso), o imperador decidiu culpar os cristãos, praticantes de um novo culto que Tácito descreveu como uma "perniciosa superstição". Certamente muitos cristãos foram mortos, queimados vivos ou lançados às feras, o que alimentou substancialmente a lenda dos mártires, nomeadamente após a publicação do romance Quo Vadis (1895) do escritor polaco Henryk Sienkiewicz, que em 1905 receberia o Prémio Nobel da Literatura. O romance, tornado num best-seller, foi várias vezes passado ao cinema, com especial destaque para a produção de 1951, realizada por Mervyn Le Roy e interpretada por Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Genn e Peter Ustinov. No entanto, as perseguições contra os cristãos não foram sistemáticas e, segundo as mais recentes investigações históricas, o número de mártires geralmente apontado é manifestamente exagerado e os suplícios a que foram submetidos devem muito à imaginação dos escribas.
Verificou-se também em muitos lugares, e ao longo destes tempos, um grande desejo de alguns cristãos ascenderem ao martírio. Não o logrando, praticavam o suicídio, tendo-se mesmo formado grupos com essas intenções, especialmente no Norte de África, que ficaram conhecidos como circunceliões.
Um dos grandes atentados dos cristãos contra a cultura clássica foi a destruição, em 392, do Templo de Serápis, em Alexandria. O deus Serápis fora introduzido no Egipto pelos Ptolemeus, desejosos de combinarem a antiga religião faraónica com a mitologia grega. Neste templo, situado próximo do lugar onde hoje ainda se ergue a chamada Coluna de Pompeu [e onde eu estive algumas vezes] reuniam-se os livros que sobraram do incêndio e destruição da antiga Biblioteca de Alexandria e peças do Museu adjacente. Naquela data, uma turbamulta de cristãos, comandada pelo Patriarca Teófilo, procedeu à destruição do templo e do seu conteúdo, sem esquecer as obras artísticas que foram roubadas. Citando Luciano Canfora, num livro sobre a Biblioteca de Alexandria [que eu possuo mas que não tenho agora ocasião de procurar], a autora escreve: «Queimar livros foi parte do advento e da imposição do Cristianismo». (p. 121)
«Mas olhe-se por um momento para a disseminação do Cristianismo a partir do outro lado e o que emerge é uma imagem bem menos fácil. Não é nem triunfante, nem alegre. É uma história de conversão forçada e de perseguição do governo. É uma história em que grandes obras de arte são destruídas, edifícios são desfigurados e as liberdades são abolidas. É uma história em que aqueles que se recusavam a converter eram proscritos e, à medida que a perseguição se adensava, eram caçados e até executados pelas autoridades zelosas. As breves e esporádicas perseguições romanas aos cristãos não são nada em comparação com que os cristãos infligiram aos outros - já para não falar do que infligiram aos seus próprios heréticos. Se isto parece implausível, considere-se um simples facto. No mundo de hoje, existem mais de dois mil milhões de cristãos. Não existe um único verdadeiro "pagão". As perseguições romanas deixaram um Cristianismo suficientemente vigoroso não só para sobreviver, como para prosperar e para assumir o controlo do império. Por outro lado, quando as perseguições cristãs terminaram finalmente, todo um sistema religioso fora praticamente varrido da face da Terra.» (p. 134)
«As páginas da história podem ignorar esta destruição, mas a pedra é menos esquecida. Visite a sala 18 do Museu Britânico de Londres [já a visitei] e ver-se-á perante os mármores do Parténon, levados da Grécia por Lorde Elgin no século XIX. As espantosas estátuas de aparência realista estão, hoje, num estado terrível: muitas foram mutiladas ou faltam-lhes membros. Tal, presume-se frequentemente, ocorreu por culpa dos trabalhadores desajeitados de Lorde Elgin ou dos confrontos que ocorreram durante a ocupação otomana. E, de facto, em parte - mas só em parte - isso é verdade. Em grande medida, a destruição resultou do trabalho dos zelosos cristãos que percorreram o templo com instrumentos rombos, atacando os deuses "demoníacos", mutilando algumas das estátuas mais belas que a Grécia alguma vez produzira.» (p. 137)
«No Museu de Palmira existia, pelo menos até à recente ocupação da cidade pelo Estado Islâmico, a figura mutilada e reconstruída da outrora grandiosa figura de Atena que havia dominado o templo da cidade. Uma enorme cova no rosto outrora belo foi tudo o que restou , depois de o nariz lhe ter sido arrancado [ainda vi essa estátua no Museu, antes da invasão do Daesh]. Um livro recente acerca da destruição das estátuas pelos cristãos, que se concentra apenas no Egipto e no Próximo Oriente, chega quase às trezentas páginas carregadas de imagens de mutilação. (Making and Breaking the Gods: Christian Responses to Pagan Sculpture in Late Antiquity, de Troels Myrup Kristensn)» (p. 138)
Depois da "conversão" do imperador Constantino ao cristianismo, este tornou-se numa religião plenamente aceitável no Império. Mas o paganismo manteve-se, ainda que os cristãos prosseguissem a sua acção de progressivo apossamento dos lugares chaves, seguindo o exemplo do Imperador que, embora não renunciando às suas prerrogativas como Pontifex Maximo, educou os seus filhos na nova religião.
O imperado Juliano, chamado posteriormente o "Apóstata", pois não se tornou cristão como os seus antecessores, pretendeu restabelecer os cultos antigos e combater as novas ideias totalitárias que, sincera ou hipocritamente, iam ganhando os espíritos e se lhe afiguravam perigosas. Morreu assassinado, talvez por um escravo cristão, e com a sua morte esfumaram-se definitivamente as esperanças de restaurar os deuses da Antiga Roma. Sobre Juliano, homem de extraordinária cultura clássica e de refinados costumes, o último imperador romano dotado de vasta sabedoria, escreveu Gore Vidal, em 1964, um notável romance, Julian, que a todos os títulos se recomenda e de que existe tradução portuguesa.
Mas a grande tragédia para os pagãos ocorreu com Teodósio I, que em 391 proibiu o culto pagão: "Pessoa alguma terá o direito de realizar sacrifícios; pessoa alguma se aproximará dos templos; pessoa alguma prestará reverência aos altares" (p. 142).
Confortados com os favores imperiais, os bispos cristãos prosseguiram a política de combate aos pagãos e de destruição dos seus templos e escritos. Martinho de Tours mandou incendiar templos, Bento de Núrsia, ao chegar ao Monte Cassino, começou por destruir o santuário de Apolo, João Crisóstomo (Boca de Ouro) incentivava o povo de Antioquia a campanhas da maior violência.
O requisitório da autora é extenso e pormenorizado. Anotarei ainda as destruições levadas a cabo contra santuários pagãos em Cartago e os estragos infligidos nos templos do Egipto faraónico. [Eu mesmo tive ocasião de ver, por mais de uma vez, certas pinturas apagadas nas colunas de Luxor ou de Karnak que representavam imagens não conformes ao cristianismo nascente. Por exemplo, todas as figuras do deus itifálico Min foram raspadas até à altura alcançável pelas escadas dos cristãos. Olhando uns metros mais acima, ainda podemos contemplar algumas dessas representações].
Catherine Nixey refere um episódio que estudei e que sempre me perturbou. O assassinato pelos cristãos da famosa Hipácia, célebre filósofa e matemática de Alexandria, em 415, por instigação do sinistro patriarca Cirilo de Alexandria, então em conflito com o governador romano Orestes. Hipácia era a última representante dessa plêiade de filósofos e sábios que haviam tornado aquela cidade, desde os tempos da Biblioteca e do Museu, o grande centro intelectual da época. E que eram, naturalmente, pagãos. Diz Kathleen Wider que o assassinato de Hipácia "marcou o fim da Antiguidade Clássica". E escreve Stephen Greenblat que essa morte "representou efectivamente a queda da vida intelectual de Alexandria" [Tenho dois bons livros sobre Hipácia: Hipátia de Alexandria, de Maria Dzielska (tradução portuguesa) e Hypatia, de Arnulf Zitelmann (em francês)].
«O hábito de queimar livros gozou de uma longa história. Um milénio mais tarde, o pregador italiano Savonarola queria que as obras dos poetas amorosos latinos Catulo, Tibulo e Ovídio fossem banidas, enquanto outro pregador dizia que todos estes "livros vergonhosos" deveriam ser abandonados, "porque se forem cristãos são obrigados a queimá-los".» (p. 190)
Amiano Marcelino (330-391) escreve (The Later Roman Empire) que «inúmeros livros e pilhas inteiras de documentos, que haviam sido retirados de diversas casas, foram empilhados e queimados sob os olhos dos juízes. Foram tratados como textos proibidos, para mitigar a indignação provocada pelas execuções, embora se tratasse, n sua maioria, de tratados sobre diversas artes liberais e sobre jurisprudência.» (p. 194)
«Muito da literatura clássica foi preservado pelos cristãos. Ainda mais não o foi. Para sobreviverem, os manuscritos precisavam de ser cuidados, recopiados. Os clássicos não o foram. Os monges medievais, numa altura em que o pergaminho era dispendioso e o conhecimento clássico tido em pouca conta, limitavam-se a pegar em pedra-pomes e a raspar da página as últimas cópias das obras clássicas. Rohmann realçou que existem provas que sugerem que, em alguns casos, "conjuntos inteiros de obras clássicas foram deliberadamente escolhidos para serem apagados e escritos por cima por volta de 700 dC., frequentemente com textos da autoria dos Pais da Igreja ou com textos legais que criticavam ou baniam a literatura pagã". Plínio, Plauto, Cícero, Séneca, Virgílio, Ovídio, Lucano, Lívio e muitos, muitos mais: todos foram raspados pelas mãos dos crentes.» (p. 196)
São João Crisóstomo foi exímio em controlar os costumes determinados pelas suas leis. «Estas leis eram mais fáceis de fazer do que de policiar. Como poderiam os cristãos saber o que se passava por trás das portas fechadas? Num infame sermão, São João Crisóstomo encontrou a solução: os membros das congregações cristãs deviam espiar-se uns aos outros. Deviam observar os restantes elementos da congregação em busca de pecadores - e por "pecadores" refiro-me a pessoas que se atrevessem a ir ao teatro - e quando os encontrassem, deviam caçá-los e humilhá-los, entregá-los.» (p. 238). As polícias secretas dos nossos dias talvez se tenham inspirado neste santo particularmente venerado pela Igreja.
O imperador Justiniano foi implacável na sua perseguição a judeus, pagãos e heréticos e interveio em todos os negócios da Igreja a fim de mantê-la sob o seu controlo como sustentáculo do Império. Em 529, fechou a Academia de Platão, em Atenas, o último baluarte do paganismo. Em 540 extinguiu o Talmude das sinagogas. Em 550 mandou destruir uma parte dos frisos do templo de Ísis, na ilha de Philae, o último reduto dos mistérios egípcios.
As consequências das determinações de Justiniano foram colossais. O filósofo Damáscio, o último dos neoplatónicos, que dirigia a Academia de Atenas foi obrigado a exilar-se. Foram estas leis de Justiniano que levaram o já citado Edward Gibbon a «declarar que "as invasões bárbaras tinham sido menos prejudiciais à filosofia ateniense do que o Cristianismo".» (p. 264)
Damáscio, que trocara Alexandria por Atenas devido ao clima sufocante provocado pelos cristãos, abandonava agora esta cidade (532), viajando para a Pérsia, seduzido pela fama (indevida) de grande erudito que seria o rei Cosroes.
Mas com o encerramento da Academia a filosofia ateniense estava acabada. E a Idade das Trevas começou a descer sobre a Europa.
Registei alguns aspectos que me pareceram mais significativos desta obra, mas é imenso o que fica por dizer.
Há, todavia, alguns reparos à edição. O primeiro refere-se à tradução (de Pedro Carvalho e Guerra) e à revisão de Goodspell (ignoro se é um tradutor automático). Os primeiros capítulos evidenciam uma prosa pouco fluente mas com a continuação o discurso melhora substancialmente. Uma coisa inexplicável é o facto de no Índice se mencionarem os capítulos pelos seus números, omitindo o nome de cada um. Apenas alguns pontos merecendo correcção: na página 23, onde se refere 532 a.C. é 532 d.C.; na página 47, onde está escrito William Blakeish, deveria estar William Blake; na página 117, onde se menciona 39 d.C. deveria estar 392 d.C; na página 137, onde se lê "uma estátua maior do que a vida de Afrodite", presume-se que seja #uma estátua de Afrodite maior do que o tamanho natural", mas não conheço o original. E na página 173 a referência a um "Cármen" de Catulo dispensaria proveitosamente o acento no "a".
Deve acrescentar-se ainda (mérito da autora) a exaustiva bibliografia inserida no fim do volume, quer de fontes primárias, quer de fontes secundárias, que muito contribui para ulteriores consultas dos interessados na matéria.