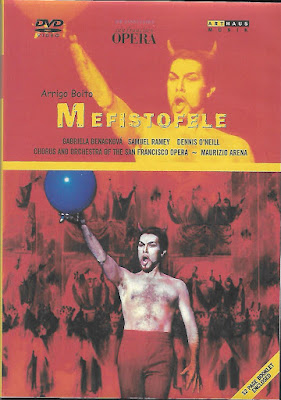Quase cem anos separam a publicação de Les faux-monnayeurs (1925), de André Gide (1869-1951) e o filme homónimo (2010) de Benoît Jacquot (n. 1947). Vários foram os realizadores que tentaram passar ao cinema a célebre obra, a única que Gide classificou de "romance", entre a sua numerosa ficção. Entre os mais conhecidos contam-se Luigi Comencini e o próprio Marc Allégret (que na juventude fora um dos amantes preferidos de Gide) mas a difícil, e problemática, passagem à película só viria a ser concretizada por Benoît Jacquot.
Trata-se de um livro complexo, recheado de personagens principais e acessórias (o que justificaria no fim uma tábua com a identificação dos intervenientes e as suas relações familiares), dominado contudo pela figura de Édouard, um alter ego de Gide, através do qual o escritor exprime as suas próprias opiniões sobre a literatura, até porque se trata de um romance de alguma forma autobiográfico.
Apesar de uma grande liberalidade em matéria de costumes, ao longo da obra aflora a educação protestante de André Gide, que se manifesta em subtis pormenores. Na contracapa do vídeo, o editor refere que o realizador escolheu para interpretar as personagens adolescentes do filme jovens com menos idade do que a referida no romance. Com esta atitude terá pretendido, porventura, acentuar a inclinação pederástica de Gide, revelada pelo escritor desde Corydon e assumida na primeira pessoa nos seus livros, pelo menos em Si le grain ne meurt e no Journal. Gide afirmava ser pederasta mas, curiosamente, rejeitava a classificação de homossexual, no melhor estilo da Antiga Grécia.
O filme, para mais sem legendas, é por vezes dificilmente inteligível. Mas não seria possível condensar claramente em duas horas de película as 400 densas páginas do romance. Um livro em que se cruzam várias histórias, com desfechos por vezes surpreendentes e abundam personagens de ambígua orientação sexual. A acção concentra-se todavia à volta de Édouard, 40 anos, nitidamente homossexual, em seu sobrinho Olivier, de 17 anos, que nutre uma óbvia paixão pelo tio, que é retribuída, e em Bernard, também 17 anos, colega de Olivier, que não sendo homossexual assume comportamentos de grande afectividade em relação aos anteriores.
André Gide, que recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 1947, e que foi considerado pelos franceses como o "contemporâneo capital" (subtítulo da célebre biografia de Éric Deschodt), expõe neste romance as suas ideias sobre a arte e a vida. Tudo o que escreveu neste livro é essencial, mas deve atender-se também a tudo o que não escreveu e que deve ser lido nas entrelinhas.
O título da obra, Les faux-monnayeurs, é o nome que Édouard, o alter ego de Gide, pretende dar a um romance que tenciona escrever, mas no livro apenas surge, episodicamente no fim, um curto apontamento de colocação em circulação de moeda falsa, deixando entrever que a verdadeira moeda falsa são as relações dissimuladas que se tecem entre familiares e amigos.
Seria ocioso proceder a citações, naturalmente redutoras, de passagens deste riquíssimo livro. Mas não resisto, a título de curiosidade, em assinalar três momentos:
«"Oh! ce n'est pas la mémoire seulement qui faiblit. Tenez: quand je marche, il me semble à moi que je vais encore assez vite; mais, dans la rue, à présent tous les gens me dépassent.
"- C'est, lui dis-je, qu'on marche beaucoup plus vite aujourd'hui.
"- Ah! n'est-ce pas?... C'est comme pour les leçons que je donne: les élèves trouvent que mon enseignement les retarde; elles veulent aller plus vite que moi. Elles me lâchent... Aujourd'hui, tout le monde est pressé."» (p. 117)
Recordei-me de L'Homme Pressé, de Paul Morand.
«Tenez... il y a quelque chose que je voulais vous demander: pourquoi est-il si rarement questions des vieillards dans les livres?... Cela vient, je crois, de ce que les vieux ne sont plus capables d'en écrire et que, lorsqu'on est jeune, on ne s'occupe pas d'eux. Un vieillard ça n'intéresse plus personne... Il y aurait pourtant des choses très curieuses à dire sur eux.» (p. 118)
«"Avez-vous remarqué que, dans ce monde, Dieu se tait toujours? Il n'y a que le diable qui parle. Ou du moins, ou du moins..., reprit-il, quelle que soit notre attention, ce n'est jamais que le diable que nous parvenon à entendre .» (p. 377)
Leia-se, portanto, Les faux-monnayeurs, leia-se a vastissíma e notável obra de André Gide.