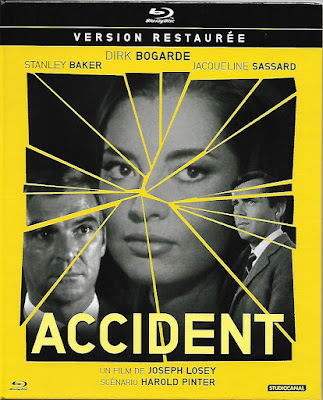POUR MES AMIS SÉNÉGALAIS, qui peuvent traduire automatiquement, malgré quelques imprécisions.
No texto que publiquei, em post anterior, sobre o livro La plus secrète mémoire des hommes, do escritor senegalês Mohamed Mbougar Sarr, que obteve este ano o Prémio Goncourt, referi que o seu livro anterior, De purs hommes, tratando da questão da homossexualidade no Senegal, motivara um certo mal-estar no país. Muitas personalidades e instituições que o haviam felicitado pelo Prémio ao darem-se conta do tema do seu livro anterior, que não tinham lido, retiraram as mensagens de felicitações. Isto revela o estado de espírito actualmente reinante, numa terra que, embora muçulmana, nunca fora severamente religiosa em questões de sexualidade.
**
Resume-se assim a história de Des purs hommes:
Ndéné Gueye, jovem professor de literatura francesa numa universidade senegalesa (tendo estudado em França), é surpreendido pela divulgação de um vídeo mostrando o desenterramento do cadáver de um homem, um góor-jigéen (homem-mulher, homossexual em wolof), que não poderia estar sepultado num cemitério muçulmano, o que significava uma verdadeira profanação.
O caso é amplamente comentado no país, ao mesmo tempo que Gueye é interpelado pelos seus alunos que o acusam de ter dado uma lição sobre Verlaine (que eles sabem ter mantido uma relação com Rimbaud), poeta que fazia parte de uma lista entretanto emitida pelo ministério senegalês, aconselhando fortemente os professores a evitar "l'étude d'écrivains dont l'homosexualité était averée ou même soupçonée" (p. 43). Sustentavam também os alunos que o ensino desses escritores fazia parte da grande propaganda europeia para introduzir a homossexualidade no Senegal [como se ela lá não existisse!].
Resolve, pois, Gueye, que se considera heterossexual, investigar sobre a homossexualidade presente e passada no Senegal e, em especial, sobre o caso do homem desenterrado no cemitério, no que é ajudado por uma senagalesa-americana (bissexual), Angela, que mantém uma relação com outra senegalesa (Rama) que também é amante de Gueye.
Consegue assim descobrir a miserável casa do morto, onde só habita a mãe deste, de quem ouve uma impressionante história.
Conta a mãe: o filho era um rapaz novo, um filho exemplar que a mãe educara com muitos sacrifícios e que acabaria a universidade esse ano. O pai morrera quando ele tinha três anos. Para ajudar ao sustento da casa dava lições particulares enquanto estudava. Subitamente ficou doente, ao mesmo tempo que circulavam rumores a seu respeito. A mãe ignorava se ele era homossexual ou não. A doença agravou-se rapidamente e não tinham dinheiro para o enviar para o hospital. Começaram a falar de sida ou de outra doença sexualmente transmissível. E morreu. Recusaram enterrá-lo. A própria mãe lavou-o ritualmente mas o cadáver, com o calor, começava a decompor-se. A mãe dormiu dois dias ao lado do morto e depois vendeu tudo o que possuía com algum (pouco) valor para pagar a dois homens que o fossem enterrar de noite num sítio discreto do cemitério. Mas houve quem descobrisse o expediente e uma multidão encarregou-se de tirar o cadáver da cova e de o colocar ao pé da casa. Foi então que a mãe, com extraordinária coragem, conseguiu abrir uma cova e sepultou de novo o filho no pátio da casa, que se tornou maldita. O rapaz chamava-se Amadou e, segundo uma fotografia que a mãe mostrou a Gueye, era muito bonito.
A mãe agradeceu a visita de Gueye, estranhando o interesse deste pelo filho, e de uma segunda visita ofereceu-lhe um prato de laax, a comida preferida pelo rapaz. Depois disse-lhe: «Je ne sais pas pourquoi tu t'es tellement attaché à mon fils. Ou à moi. Tu cherches quelque chose. Je ne sais pas non plus si la réponse est ici. Ici, il n'y a rien. Mais j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'espère sincèrement».
Entretanto, Gueye foi suspenso pela universidade, já que os alunos se tinham queixado ao director da faculdade que ele ensinara (o proibido) Verlaine. Alarmado com este puritanismo religioso, Gueye encontrou-se com um colega mais velho (casado e presumivelmente heterossexual) que o estimava e interrogou-o sobre a homossexualidade no Senegal, assunto que nunca o preocupara, tendo aliás passado vários anos afastado do país, a estudar em França. O velho colega disse-lhe: «J'ai connu une époque où les homosexuels étaient différents. C'est le mot. Les homosexuels ont toujours existé au Sénégal, ceux qui disent le contraire sont soit trop jeunes, soit de mauvaise foi, peu observants de leur culture. Les homosexuels ont toujours existé parmi nous, mais ils se comportaient d'une autre manière. Rien dans leur habilement ou leur attitude n'indiquait qu'ils étaient góor-jigéen. Pourtant, tout le monde le savait et l'acceptait. À l'époque, ils ne gênaient personne parce qu'ils étaient discrets, polis, respectables. Ils avaient dans la société un rôle particulier, qu'ils remplissaient sans chercher à en rajouter, sans chercher à faire inutilement remarquer qu'ils étaient singuliers. Tout le monde le savait. Ils vivaient en général seuls, et comptaient sur l'appui de leur protectrice et sur ce qu'on leur donnait, lors des cérimonies, pour vivre. Cette discretion et l'importance de leur rôle dans le jeu social faisaient que, même si l'homosexualité était interdite dans l'islam, on ne tuait pas les homosexuels, on ne les emprisonnait pas systématiquement. Il y avait des lois, bien sûr. Des lois anti-homosexuelles, comme aujourd'hui, mais leur application était plus complexe. Ceux qui évoquent un âge d'or, où les homosexuels auraient été traqués plus durement, chassés de la société, ne savent pas de quoi ils parlent. Ce passé dont ils ont la nostalgie, je l'ai vécu. C'était le contraire de ce qu'ils veulent croire et faire croire.» (pp. 145-6)
E o velho professor prosseguiu a explicação, dizendo que hoje os homossexuais são impudicos, provocadores, casam-se... tornaram-se grosseiros. É um punhado de gente que dá uma falsa imagem do país em detrimento da maioria heterossexual, que se sente agredida moralmente, religiosamente, visualmente. Agora, no Senegal, para evitar serem mortos, os homossexuais têm de casar-se com pessoas do sexo oposto, ter filhos, trabalhar em áreas onde pouca gente poderá suspeitar deles. Há muito mais homossexuais neste país do que se pensa. «On est passés d'homosexuels socialement utiles et discrets à des pédales - pardonnez-moi l'usage du terme - qui ne sont intéressées que par leur image. Les pédés ont remplacé les góor-jigéen.» (p. 147)
E continuou: «Si les homosexuels d'aujourd'hui sont si indécents, c'est parce qu'ils sont influencés par le monde des Blancs. Là-bas, les homosexuels s'aiment et s'embrassent à la vue de tous. Ils peuvent se marier légalement. La réalité homosexuelle ets reconnue et montrée, dans des manifestations, dans des films. Et les homosexuels, ici, croient qu'ils peuvent se permettre la même chose, qu'ils peuvent réclamer des droits similaires, adopter la même attitude en public. C'est du suicide. Les Blancs donnent de l'homosexualité une image qui fait fatasmer ceux d'ici, qui veulent imiter cette image. Sauf qu'elle ne peut pas être la même ici. Du moins, pas encore. Dans leurs pays, les Occidentaux sauvent les homosexuels; ici, on les condamne. Ils ne se rendent pas compte que les pressions qu'ils exercent sur nos gouvernements pour la dépénalisation de l'homosexualité produisent l'effet inverse: une montée de l'homophobie. Ils ne comprennent pas...» (p. 149)
E ainda: «Je sais que vous allez me parler de république, de démocratie, d'égalité... Je sais... Mais je crains que l'égalité ne soit une chimère en démocratie. Elle l'est même en Occident, où les pires inégalités subsistent, selon l'origine, la classe sociale, la richesse, la religion. La marche vers l'égalité ne peut s'effectuer à la même vitesse partout.» (p. 149)
Acontece que as visitas de Gueye a casa do desenterrado e um encontro que, por curiosidade, manteve num bar com um célebre (e tolerado) góor-jigéen (que afinal não era homossexual), célebre animador de festas em Dakar, levantaram uma onda de rumores que chegaram a casa do seu pai que ficou em choque. O pai exigiu-lhe uma retratação do que se ouvia, o que Gueye, em consciência, não podia fazer, tendo-lhe aquele imposto a saída de casa.
Resolve Gueye ausentar-se de Dakar para sossegar os ânimos e vai passar uns dias com Rama (a sua amante) a uma aldeia de pescadores. Na praia assiste à faina destes, tira fotografias, mas acaba por ficar fascinado por um jovem muito negro que o fixa ostensivamente. Não chegam a trocar palavras e Gueye começa a debater-se com o problema da sua identidade. Rama tenta auxiliá-lo mas debalde. Sabem, no regresso, que o velho (ainda assim não tão velho) professor seu colega que o recebera em casa fora encontrado em atitudes menos próprias com outro homem, dentro da universidade, tendo sido linchados. O professor sobreviveu sem um olho e em estado muito grave e o outro homem morreu.
Gueye fica possuído por uma fúria negra contra os seus compatriotas assassinos. «J'éprouve soudain le désir de les tuer tous, sans prendre le temps d'y regarder au cas par cas, sans nuance, sans chercher à voir qui est bon, qui est méchant, qui est humain à demi. Je n'en ai même pas l'envie: ils sont tous coupables. Il ne peut y avoir d'innocents parmi eux. Ils sont la société, la société dans un mouvement brutal, puissant et irrépressible comme celui d'un boa qui étouffe une proie. Si j'en avais eu la possibilité, je sortirai arme au poing et je mitraillerais la foule à l'aveuglette, comme un terroriste, enivré de ma haine, de mon dégoût et de ma détermination.» (p. 187)
E Gueye: «Je vais sortir, leur causer la plus insoutenable souffrance et leur offrir le plus inestimable cadeau en un seul geste: me métamorphoser en pédé, un pédé qu'ils pourront tous à la fois craindre dans une répulsion viscérale et désirer dans une obscure pulsion de meurtre. Qu'ils me couvrent de crachats, qu'ils me déchiquettent avec leurs dents, qu'ils me brisent le os et me traînent nu par les rues, qu'ils m'injurient et injurient ma défunte mère, qu'ils me jugent indigne de vivre, qu'ils me cassent les dents pour que je suce mieux [deste pormenor gosto] comme ils disent, qu'ils me lynchent et m'abandonnent en plein air, viscères au ciel comme une charogne!» (p. 188)
«En suis-je un? Oui... Non... Peu importe: la rumeur dit, décidé, décrété que oui. J'en serai donc un. Je dois en être un. S'ils ont besoin, ceux-là dehors, que j'en suis un pour mieux vivre, je vais l'être, jouer à fond mon rôle et ainsi chacun sera content. Eux de vivre, moi de mourir. Peut-être seulement, après ma mort, se rendront-ils compte du cadeau que je leur fait... Ils chanteront mes louanges. Ils baiseront mes pieds froids et embrasseront mon cercueil comme celui des saints. Certains de mes bourreaux, leur colère retombée, diront du bien de moi, sans risques, puisq'un bon pédé est un pédé mort.» (p. 190)
E Gueye nas suas elucubrações anteriores: «Ce n'est pas parce qu'ils ont une famille, des sentiments, des peines, des professions, bref, une vie normale avec son lot de petites joies et de petites misères, que les homosexuels sont des hommes comme les autres. C'est parce qu'ils sont aussi seuls, aussi fragiles, aussi dérisoires que tout les hommes devant la fatalité de la violence humaine qu'ils sont des hommes comme les autres. Ce sont de purs hommes [o sublinhado é meu e remete para o título do livro] parce que à n'importe quel moment la bêtise humaine peut les tuer, les soumettre à la violence en s'abritant sous un des nombreux masques dévoyés qu'elle utilise pour s'exprimer: culture, religion, pouvoir, richesse, gloire...» (p. 125)
Este o resumo da história deste livro, entre outros episódios que não cabe citar neste espaço e que não são essenciais para a compreensão do propósito do autor.
Não admira que o livro tenha sido motivo de de desagrado, mesmo de rejeição, no Senegal. A religião muçulmana ao longo dos séculos, e salvo momentos particulares, sempre admitiu, na prática (que não na teoria) comportamentos homossexuais. Mas nos últimos tempos, e devido à emergência de um fanatismo religioso (a religião católica já o possuiu) tornou-se intransigente, em numerosos países, quanto às práticas ditas contra natura. Acresce o facto, como o autor reflecte, dos exageros praticados no mundo ocidental quanto à normalização da homossexualidade, com efeitos profundamente negativos em culturas tradicionais como as muçulmanas e africanas em geral. Os excessos dos movimentos LGBTIQ+, a proliferação das identidades sexuais, os casamentos de pessoas do mesmo sexo, tudo se processando a uma velocidade alucinante, sem tempo de assimilação, induz, especialmente em África, a considerar que se trata de um novo processo de colonização pelos Brancos que por tal deve ser rejeitado. Um pouco de contenção não teria feito algum mal.
Resumindo: De purs hommes é um livro muito bem escrito, didáctico, revelador do ambiente moral do Senegal, e de uma parte da África sub-Sahariana. Mais breve e nada complicado na descrição dos factos, ao invés do seu seguinte livro que foi galardoado com o Prémio Goncourt. Este livro é também um acto de coragem de Mohamed Mbougar Sarr, cuja orientação sexual efectivamente desconheço. Mas está de parabéns o autor.
Nota: uma única vez, no livro, a palavra homossexual é substituída pela palavra gay. Ainda bem.